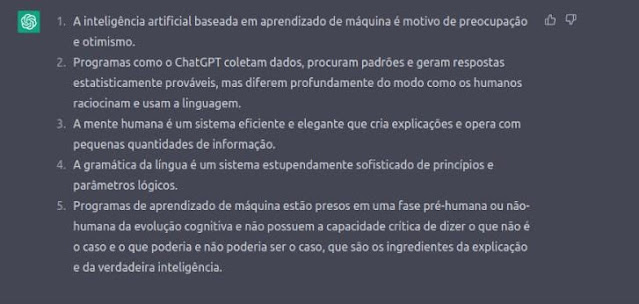1 Contra a linguagem
Gostaria de começar dizendo que ando muito incomodado com a primazia que ideias ligadas à linguagem têm tido no enquadramento de problemas políticos contemporâneos. No bojo dessas ideias, tudo se passa como se a ação não apenas estivesse umbilicalmente ligada à linguagem, mas decorresse dela. Como se as ações não passassem de efeitos de performances – e os corpos, efeitos de falas –, e num esgotado esquema no qual pensar é ligar palavras às coisas, as coisas forçosamente se seguiriam das palavras.
Como consequência desse modo de abordar os problemas, parece que tudo que precisaríamos seria inventar um novo vocabulário político para um mundo que já se encontra inteiramente pronto e acabado, com desafios definidos, com tensões já estabelecidas, e que uma nova linguagem política teria que vir resolver (sempre progressivamente, claro). Sinto, no entanto, que é impossível pensar ou viver uma política em que as coisas já estão dadas e apenas os nomes próprios faltariam.
O que geralmente observo, especialmente sob o regime da informação, é o inverso: as palavras se amontoam, intoxicam, excedem, e as coisas e os corpos é que não comparecem. Os eventos faltam. E hoje estamos aqui, falando de Junho, porque foi o último grande evento na agenda política por um outro mundo possível de que nos lembramos em muito tempo – não porque Junho foi capaz de inventar um vocabulário ou um almanaque de palavras adequadas. Pelo contrário, as palavras de Junho evocavam um mundo que faltava. Havíamos inventado o povo que faltava, ele estava nas ruas, mas apenas para descobrir que o que faltava talvez fosse o mundo. Talvez ele tenha existido por um breve instante. Quem saberá?
Nas últimas décadas, é possível que tenhamos dado poder demais às semioses, esquecendo que toda linguagem, toda informação e todo efeito de sentido procedem de agenciamentos tecnossociais e maquinações coletivas muito concretas das quais as palavras participam. De outra maneira, as condições que tornam possíveis os movimentos em um campo social ficam imobilizadas à espera da linguagem.
De modo que me é completamente impossível falar de Junho sob o ponto de vista da linguagem. Assim como Junho não foi, e nem se exaure, em um evento histórico – mas foi, por definição, um devir – inacabado e ainda aberto a prolongamentos ulteriores –, Junho não foi linguagem, mas uma maquinação coletiva de conteúdo-expressão que decorria de um agenciamento coletivo social múltiplo, febril, e em transe.
A esse ponto de incômodo, eu gostaria de acrescentar um outro. Por um lado, não nos cansamos (embora, devo confessar que eu já) de analisar Junho sob o ponto de vista da sua efetividade; isto é, seus fatos, seus eventos, seus empirismos nus de todo tipo. Mas também sob o ponto de vista do que Junho poderia ter sido e não foi (junho como potência, ou como virtualidade).
Esses dois cacoetes de análise muito provavelmente foram ferramentas úteis de decifração para o calor do momento, mas hoje, temo que eles nos afastem metodicamente, e por hábito, das duas únicas questões concretas que, a meu ver, relacionam Junho ao hoje e aos desafios do presente. As duas únicas dimensões que realmente importam, e que de certa forma se inspiram numa retomada da utilidade e desvantagem da história para a vida. Nova volta no parafuso de Nietzsche, que só reconhecia como justa a crueldade do devir que, como Junho, vinha rasgar o firmamento da História e da tradição.
Por um lado, há o que vou chamar de longa trama de Junho. Ela se confunde com a acumulação primitiva de condições de possibilidade, de lutas e de modos de vida múltiplos e contraditórios que confluíram na transversal multitudinária que Junho encarnou. Por outro lado, persiste o desafio verdadeiramente político, na dimensão da ação e da organização dos corpos e dos afetos, de dar linha a essa longa trama de lutas que confluíram e tomaram a transversal de Junho, e que, hoje, precisam procurar pontos de apoio concretos e de desenvolvimento que certamente já são outros. Junho é uma longa trama e uma transversal.
Então, falo das estruturas, que funcionam como meios de tensão da ecologia política de Junho, mas que, justamente ao tensioná-la, ao mesmo tempo acabam designando o conjunto concreto de condições que “possibilitaram os possíveis” de Junho. Em seguida, vou puxando de maneira fragmentária e incompleta alguns dos fios que compõem a meu ver a longa trama de Junho.
A acumulação das singularidades das lutas que encontraram em junho uma transversal que lhes permitia saírem de seus impasses de singularização e aceder a um terreno comum e incompleto de novas lutas. Todo o problema que subjaz à “longa trama de Junho” é o do acoplamento sociotécnico entre estruturas e singularidades; o do evento de composição social de uma “possibilitação dos possíveis”.
2 Estruturas
A longa trama de Junho é feita de duas dimensões: 1) Um complexo de estruturas reais, ao mesmo tempo globais e locais, em que essas lutas se apoiavam conjunturalmente, e de maneira antagonista colocavam as singularidades do campo social em tensão e em movimento; 2) A acumulação primitiva de lutas encampadas pelas singularidades que tentavam fazer bola de neve e multidão; lutas que precederam Junho e que, pouco a pouco, foram forjando uma “possibilitação dos possíveis” que Junho terminou por nomear, e sobretudo por encarnar, como um efeito de expressão – e isso procede de uma articulação efetiva entre as dimensões do global e do local.
Talvez possamos localizar entre 2008-2009, na crise dos subprime loans americana, um primeiro foco no qual as primaveras globais (e Junho entre elas) puderam se apoiar. A crise de 2008, crise global de crédito e, portanto, também de confiança no sistema financeiro internacional, exprimia um descompasso na articulação entre duas metades do capitalismo global: a sua metade abstrata, financeira e imaterial (seu lado crédito) e a sua metade concreta, “real” e material (seu lado imóvel).
A ampliação e a aceleração na concessão de créditos imobiliários para devedores duvidosos levaram à percepção iminente de um default generalizado, e esta conduziu então a massivas injeções de liquidez nos mercados americano e global para evitar um colapso financeiro que poderia ter se seguido da quebra de bancos médios americanos, espraiando-se por todo o ambiente do mercado financeiro internacional.
Estas políticas ficaram conhecidas como quantitative easing, e não apenas nunca mais desapareceram da cena, irrigando o campo social de moeda sempre nova – seguida de ciclos de contracionismo –, como recentemente conheceram novo fôlego durante a pandemia do Coronavírus.
No caudal das ameaças de quebras e dos salvamentos financeiros (regime de monopolização dos lucros, mas de socialização dos prejuízos), produziu-se o Occupy Wall Street, um movimento contestatório e de massas que, em 2011, questionava a desigualdade de renda e riqueza nos Estados Unidos, e prometia ocupar o coração financeiro do mundo.
Todo esse contexto de crise leva a uma reorganização do próprio capital que, desafiado a crescer nas condições de estagnação ou do decrescimento dos anos 2008-2009, progressivamente se plataformiza (Srniceck, 2017). Neste ponto, estamos nos alvores do chamado capitalismo de plataforma. Enquanto assistimos morrerem as nossas comunidades preferidas no Orkut, um capitalismo de dados massivos vai se formar progressivamente nas enclosures de Big Data de grandes plataformas que ficariam conhecidas nos anos 2010-2012 como as FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Como seu negócio era data driven – seja na área das redes sociais, produtos e bens de consumo, streaming e entretenimento online, mobilidade urbana etc. –, essas plataformas vão pervasivamente colonizando porções cada vez maiores do nosso tempo, relações, afetos e existências. A tal ponto, que elas se tornam plataformas de circulação e de logística social que subsumem porções cada vez maiores da vida social planetária, vetorializando suas ecologias (Wark, 2015).
Esse rearranjo do Capitalismo Mundial Integrado (CMI) fornece uma nova alavanca, concentracionária e quase-monopolista, da vida em geral. Reorganizando a circulação do crédito, dos fluxos monetários, dos imóveis, elas nos deixam em um novo patamar de abstração e nos impõem um novo ritmo de circulação.
Por outro lado, essa reorganização capitalista não pode ocorrer sem ao mesmo tempo preparar infraestruturas que, nos mais diversos continentes, vão servir para acelerar semioses de composição das lutas. A velha lição de Foucault: não apenas as resistências precedem as relações de poder, como estas fornecem as condições para multiplicação de resistências, e para a reversibilidade estratégica das próprias relações de poder. O impasse dos poderes pode até durar um tempo, mas não é páreo para a imaginação da liberdade.
Não é que o capitalismo prepare as condições de sua própria supressão, mas os rearranjos capitalistas não podem se estruturar sem fornecer brechas e pontos de apoio que permitam um agenciamento inesperado do desejo social de transformação que alimenta as lutas. Foi assim com o OWS, com o BLM (disparado por um tweet em julho de 2013 e alimentado pela sousveillances das câmeras dos celulares), com as primaveras árabes (que conheceram a censura pelas ditaduras) e com Junho. Lutas que se desdobraram de forma quase inconsciente e já em condições imediatamente algorítmicas (Finn, 2017). As redes fornecem algumas das infraestruturas em que as transversais de demandas e de lutas se prolongam umas nas outras. Em que a longa trama de junho, a cujas condicionantes sociais em breve chegaremos, se perfaz.
No Brasil, Junho será deflagrado precisamente por uma incompatibilidade entre o imaterial e o material, o financeiro e a circulação dos corpos – a logística do deslocamento metropolitano cotidiano. Quem formulou essa incompatibilidade e essa tensão em forma de problema político foi o MPL, catapultando o aumento do preço do transporte público (suposta necessidade fiscal do Município) e o impacto na renda e na vida real dos deslocamentos na cidade à condição de tensão política que, por parecer irresolúvel, mobiliza. Vemos aqui, o prolongamento da tensão da crise de 2008, entre fluxos financeiros abstratos (crédito), por um lado, e os imóveis/renda por outro, redefinida na tensão entre financiamento dos serviços públicos e circulação metropolitana – ou, se quisermos, orçamento e corpos.
O gatilho que dispara as transversais de mil outras lutas que compuseram Junho dá-se na tensão corpo-metrópole, e na mediação dessa tensão pelos serviços públicos que permitiriam a circulação das singularidades pelas estruturas urbanas. Mas remontar Junho ao seu disparador é encantar-se pela fagulha enquanto explode o barril de pólvora.
O barril são as lutas que se acumularam no Brasil dos anos que precederam Junho. As singularizações que vão habitar as estruturas da vida, os equipamentos coletivos, num crescendo de tensão antagonista, até levar o sistema do equilíbrio homeostático à metaestabilidade – um tipo de equilíbrio tenso, um estado pré-revolucionário (Simondon, 2020), em que a presença da menor partícula antagonista poderia deflagrar um salto quantitativo no estado do sistema.
3 Singularidades
Olhemos para alguns elementos das lutas que precederam Junho. Seus “antecedentes” que são, também, “a possibilitação dos seus possíveis”. É precisamente entre 2008 e 2012 – entre a crise dos subprime loans e o OWS – que uma série muito heterogênea de lutas agitavam o campo social no Brasil. Rememoro algumas, sem qualquer pretensão de esgotá-las, nem de estabelecer sua cronologia, ou avaliar seu peso contributivo.
Meu argumento é muito mais singelo, a contribuição milionária de todas as lutas. Ou seja, o argumento de que essas lutas, entre muitas outras, funcionaram, nos seus próprios termos, como gérmens que participaram da longa trama de Junho. Longa trama que, aliás, vai além de Junho, explode em novas transversais. O que importa é que essas lutas já eram experimentos singulares que tensionavam porções locais, estruturações parciais. Desçamos a essa usina dos corpos.
De 2009 em diante, o Brasil conheceu um novo momento de uma antiga luta pela memória e pela verdade sobre a ditadura civil–empresarial-militar brasileira. Essa nova vaga será precipitada, por um lado, pela decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de processar o Estado Brasileiro junto à CIDH pelo desaparecimento forçado de dezenas de militantes da esquerda armada entre os anos 1960-1970 na Região do Rio Araguaia.
Um segundo desencadeamento se dá pela mobilização em torno do julgamento do STF sobre a constitucionalidade da Lei de Anistia (ADPF 153), para fins de isentar criminalmente agentes de Estado, geralmente militares da reserva das FFAA, responsáveis por graves violações de direitos humanos durante a ditadura.
Esses dois casos jurídicos, um internacional e outro constitucional, são secundados por disputas de sentido tanto nas mídias de massa brasileiras quanto conhecem repercussões e disputas nas redes – especialmente, em blogs e redes sociais nascentes, enquanto se popularizavam as ainda recentes, caras e precárias, conexões ADSLs tupiniquins. Elas nos faziam abandonar o ruído infernal das conexões discadas, e abriam o campo social à possibilidade de acelerar os acoplamentos.
Entre 2008 e 2010, a generalização das estruturas de redes sociais vai permitir uma circulação alternativa das lutas, que ganham novos eixos de organização como o Facebook e o Twitter, que também serviram como infraestruturas comunicativas para revoltas em rede durantes as primaveras – e foram censuradas e combatidas por governos ditatoriais no mundo árabe, enquanto foram amplamente policiadas nas democracias liberais (caso brasileiro).
Mas o Brasil dos anos 2008-2010 conheceu uma série de outras lutas, que se ramificaram internamente, e formaram essa longa trama cujos ecos puderam ser ouvidos, por vezes aos estilhaços, em Junho. Junto aqui apenas um punhado de fios soltos. Era o caso das pautas cosiddetti sobre os costumes.
Caso das pautas sobre a descriminalização da interrupção da gravidez (o direito ao aborto seguro), das marchas contra o estatuto do nascituro, das marchas em favor da descriminalização da maconha (as marchas da maconha). Ainda, era o caso das pautas de gênero, que não raro se imbricaram com as chamadas “pautas de costume”; mas, aqui, tenho em mente as marchas das vadias, inspiradas nas slut walks canadenses, que denunciavam a cultura do estupro e demandavam o direito de se vestir como bem se queira, sem por isso tornar justificável a violência machista.
Especialmente nos grandes centros urbanos, o Brasil destes anos também conheceu marchas pela desmilitarização das polícias, movimentos de mães de vítimas de violência do Estado; lutas que, no Brasil, são inequivocamente atravessadas pelo antirracismo e pela denúncia da perseguição sistêmica das polícias às classes pobres, e às pessoas pretas e pardas.
Ao mesmo tempo, o Levante Popular da Juventude protagonizava esculachos, inspirados nos escrachos argentinos, denunciando torturadores nas portas das suas casas, renomeando espaços públicos, botando abaixo monumentos que contavam a história “dos que venceram”. E claro que há movimentos, marchas e paradas (como a parada do orgulho LGBTQIAPN+) que têm um curso mais longo na história. Aqui, tento me ater de maneira fragmentária e incompleta aos vetores de lutas que pareciam ser mais candentes naquele bloco histórico pré-Junho – e isso obviamente não invalida outras lutas, nem outras marchas.
Os anos seguintes serão acumulados de novos vetores, que eu reduziria didaticamente a três principais. O primeiro, socioambiental e eco-territorial, que abrange as lutas territoriais e indígenas, lutas anti-especistas e resistências situadas contra remoções; o segundo, ao autonomismo metropolitano e à dinâmica das ocupações urbanas; o terceiro, às lutas mais difusas e ambivalentes contra a corrupção sistêmica e o desencanto com a política de Estado.
Todas essas lutas se acumularam embaixo do tapete da maré rosa – isto é, sob os pés dos governos progressistas latinoamericanos, e em condições de relativa potencialização dos pobres – atingida por meio de políticas de crédito e acesso ao consumo, renda e habitação.
No entanto, essa potencialização dos pobres não apenas é tímida e insuficiente para reverter as miríades de desigualdades do Brasil profundo, como paradoxalmente acontece sob contradições sistêmicas graves desses mesmos governos.
No Brasil, foi o caso dos megaeventos (Copa do Mundo e Olimpíadas), da violência financeira e econômica organizada em consórcio com o Estado contra territórios e populações minoritárias; das remoções e gentrificações de áreas pobres; das questões energéticas e ambientais que opunham o desenvolvimentismo como política de Estado à preservação ambiental e de modos de vida tradicionais (as usinas de Belo Monte e Jirau, projetos da ditadura desengavetados pela democracia de esquerda…); a contribuição das lutas metropolitanas, das populações indígenas, dos trabalhadores precários e intermitentes etc.
Relembrando essas lutas, não fazemos mais do que desemaranhar os fios mais evidentes de um imenso novelo. Cito essas poucas, e ainda assim muitas!, lutas com a intenção de mostrar-lhes que Junho acontece no caudal de uma longa trama…
Quero dizer, o campo social no Brasil pré-Junho poderia ser descrito como uma estrutura cujos equipamentos coletivos (urbanos, relacionais, semióticos, existenciais) já vinham sendo tensionados por uma multiplicidade dispersa de singularidades e lutas que Junho mais ou menos enfeixou nas suas transversais. Talvez a mais compreensiva de todas, em termos expressivos, tenha sido a plural transversal da sociedade contra o Estado, o grito Não nos representam!, que não apenas recusava partidos, mas exigia democracia real já, inspirado talvez no 15-M espanhol e nos seus indignados, mas também nos movimentos de libertação contra tiranias que explodiram nas ditaduras árabes.
Junho foi um efeito sensível e de percepção que consistia em se dar conta de que a estrutura que conhecíamos já não bastava à exigência múltipla do desejo social. Para sacanear com Lacan, havia um “mais-de-querer” no ar que parecia dizer ao Estado: “tudo isso, o Estado mesmo, essa política de vocês (e pra vocês, de castas), pra nós, é muito pouco”. E esse “nós” eram muitos e talvez incompossíveis nós. Muitos que a política do Estado não pode ser, senão por meio de uma ficção representativa que Junho estilhaçou em mil pedaços. Esse “mais-de-querer” socialmente difuso, circulando entre múltiplos e disparatados objetos nas redes e ruas, dava conta do estado de metaestabilidade, do estado verdadeiramente pré-revolucionário de Junho.
Agora temos, por assim dizer, a fagulha (o MPL) e o barril. As condições infraestruturais, mas também o conjunto das lutas sociais, coletivas e múltiplas, que se deixaram arrastar repentinamente, e sem que ninguém esperasse, na transversal de Junho.
As infraestruturas, mesmo as mais capitalistas, permitiram organizar-se nas redes para lutar nas ruas; franquearam uma dimensão em que essas singularidades conseguiam se recompor: a crítica aos megaeventos envolvia movimentos situados, territoriais, como a Vila Autódromo e a Aldeia Maracanã, e.g.; pautas anticorrupção (eram pautas antagonistas tradicionalmente identificadas com as direitas, mas com potencial de contaminação social, porque as políticas públicas e os serviços são efeitos de fluxos monetários e de investimento); a defasagem entre as promessas e a realidade: os megaeventos prometiam incrementos estruturais, ampliações logísticas, aumento de acesso a direitos e à circulação urbana. E isso contrastava com um sistema político de castas e de privilégios, bem como com práticas de corrupção que hoje sabemos sistêmicas.
As recusas representativas marcaram essa transversal. Uma linha de arrebentação comum a movimentos sociais prévios que tinham, nos seus próprios termos, muitas dificuldades em articular demandas de subjetividade, costumes, gênero, raça e classe, mas que eram atravessados por componentes múltiplos e comuns. Por isso, precisamos ver, sob as palavras de recusa – sua face noturna –, as ações de retomada do político pelo social – sua face diurna e iridescente.
Essa transversalização das singularidades se torna manifesta na fricção entre democracia real e fictícia, a representação; verdadeiro estado de alienação do desejo e do poder sociais à divisão política e representativa. Eis o que gera uma dinâmica de sociedade contra o Estado; uma demanda por dissolução, pelo fim das hierarquias, das divisões e dos dimorfismos (o que, em Filosofia Black Bloc, chamei de anarquismo profundo de todos os corpos).
4 Dar linha à longa trama
Esta noite, eu quis refazer pelo menos uma breve porção, um minúsculo pedaço da longa trama de Junho, porque me parece que de 2013 para cá estamos num imobilismo generalizado, em que, politicamente, só somos capazes de efetuar falsos-movimentos.
As direitas se tornaram antissistêmicas para, paradoxalmente, conservar; as esquerdas se tornaram reformistas para, paradoxalmente, restaurar. E como efeito dessa dupla miragem em que nossos corpos sonham se mover, ambas tiveram sucesso em recaptar o político para dentro do Estado, involucrando-o. Um tempo em que defender as democracias representativas, salvando-as das castas de militares incompetentes para entregá-las a castas de políticos civis, fisiológicos e profissionais, parece revolucionário. Única alternativa, como nos disseram.
Então, o meu recado é muito singelo. O que nos falta não é um novo vocabulário. É maquinar em termos concretos uma nova tensão entre estruturas e singularidades. Nosso trabalho tem de ser o de criar transversais e comunicações entre singularidades, a fim de superar os impasses de singularização nos quais boa parte dos movimentos sociais plataformados hoje se encontram, numa pane afetiva e corporal – em que não se consegue passar dos afetos às ações correspondentes – e as derivas linguísticas ou performáticas tampouco parecem estar ajudando a facilitar essa passagem.
Precisamos, então, compor ecologias germinais entre lutas dispersas, não cercadinhos de gentes em tudo iguais a nós mesmos, e também plataformas de organização e sincronização que nos permitam superar o impasse entre afetos e ação em que estamos. Impasse no qual nossos afetos, recaptados pelo there is no alternative dos dois polos magnéticos do possível político do hoje (a direita fascista e a esquerda “comunista demais”, pero no mucho), não conseguem se descarregar em ação. Essa é a dissociação que precisamos vencer de maneira transindividual, dando linha, talvez a algumas das linhas da longa trama de Junho. E então vamos poder encontrar outra trama.
Murilo Duarte Costa Corrêa
* Originalmente publicado em Universidade Nômade Brasil.